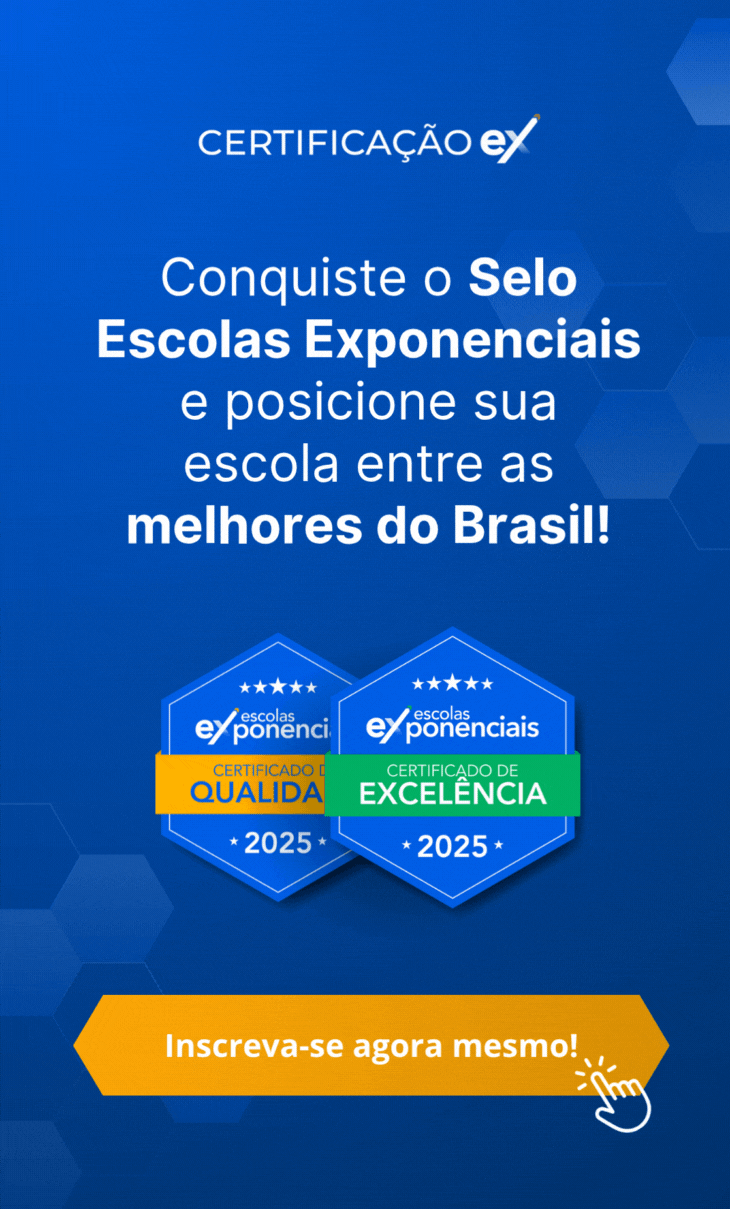Quando um professor disse a Marielly Rocha que ela não conseguiria fazer um curso de Exatas, a voz entalou em sua garganta. A resposta veio depois, em forma de ação. A jovem, hoje com 19 anos, fundou um grupo só de meninas, a maioria mais novas do que ela, para incentivar outras garotas a estudar o que quiserem.
Coletivos como o de Marielly, formado por adolescentes contra a desigualdade de gênero, se espalham pelo Brasil catalisados por escolas. As meninas, mobilizadas pelos direitos das mulheres, dão o recado: nunca é cedo demais para combater problemas que atravessam gerações.
“Queria que alguém tivesse feito esse trabalho quando estava no ensino médio. Então, acho maravilhoso ajudar outras meninas agora”, diz Marielly, estudante da Universidade de São Paulo (USP) e fundadora do clube Girl Up Rosalind Franklin – nome em homenagem à química que descobriu a estrutura do DNA. Ela e outras garotas – de 12 a 21 anos – já levaram experimentos científicos e até oficinas de programação a comunidades carentes de São Vicente (SP).
Agora, querem oferecer aulas de reforço às estudantes do ensino fundamental para combater outro problema que tem cor e gênero: a evasão escolar. “As meninas tiveram menos tempo para estudar na pandemia porque têm de ajudar nas tarefas domésticas.”
As iniciativas partem de uma constatação: representatividade importa – e muito. “As meninas entendem que podem fazer um curso e ocupar os lugares que quiserem”, diz Hosana Moratte, de 17 anos, aluna de Informática para Internet do Instituto Federal de São Paulo, na zona leste. Ela, jovens da USP e as colegas Melissa Mangueira, de 16, Júlia Tavares e Júlia Isabelly, de 15, integram o grupo Meninas na Ciência.
O coletivo organiza encontros com estudantes mais jovens para debater temas interessantes para as garotas. Já rolaram reuniões sobre engenharia genética, mudanças climáticas, vírus e vacinas. As Meninas na Ciência usam as armas que têm para alcançar mais garotas – o que inclui podcasts e posts no TikTok.
Embora não seja o foco, discussões sobre imposição de padrões estéticos já apareceram nos encontros – e motivam desabafos, diz Hosana. No Colégio Gracinha, na zona oeste de São Paulo, as rodas de conversa são uma entre as várias atividades das estudantes de 10 a 18 anos que participam do coletivo feminista Eu Não Sou Uma Gracinha.
O grupo faz debates e campanhas contra o assédio dentro e fora da escola e sobre participação política das mulheres. Para Julia Zilio, de 17 anos, no coletivo desde criança, é visível o crescimento do interesse de meninas de 10 e 11 anos em fazer parte do grupo. “É crucial se juntar às lutas desde pequena, mas é algo que dói. A gente entende que é afetada desde cedo e não vai poder fugir dessa sociedade, então temos de mudá-la”, conclui.
POBREZA MENSTRUAL
Também foi em uma escola – pública – que um projeto em defesa de mulheres mais pobres surgiu das mãos de adolescentes de 16 anos. As meninas idealizaram ações para distribuir absorventes a mulheres de rua e nas periferias. O projeto Mulheres invisíveis transformou o olhar das adolescentes sobre o próprio corpo e sobre pautas feministas. Na escola, ficou natural ir ao banheiro com um absorvente nas mãos. E, fora do colégio, as jovens descobriram que menstruar com conforto ainda é um privilégio em um país pobre e machista.
“A gente só pensa nas mulheres brancas de classe média, que é o que a gente vê na TV. Essas mulheres invisíveis não estão nas nossas lutas”, critica Yandra Ribeiro, de 18 anos, que conduz o projeto em Campinas, no interior, com as amigas Larissa Oliveira, de 19 anos, e Luana Moreira, de 18.
Para Letícia Santana, de 12 anos, que participa do Girl Up Rosalind Franklin, ter meninas tão jovens quanto ela em grupos de defesa das mulheres traz inovação. “Os mais jovens têm um novo olhar para o mundo e um jeito de fazer as coisas mais simples, mais prático.”
A menina diz encontrar apoio na família para ser curiosa e sonhar com carreiras que vão desde a Astronomia até a Biologia Marinha. Mas sabe que outras da mesma idade não têm tanto suporte. “São crianças que não têm muito acesso à informação e o que escutam do pai, da mãe é o correto para elas: que têm de ficar em casa, brincar de boneca”, diz Letícia. “Nosso trabalho dá coragem para tomarem voz.”
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Júlia Marques